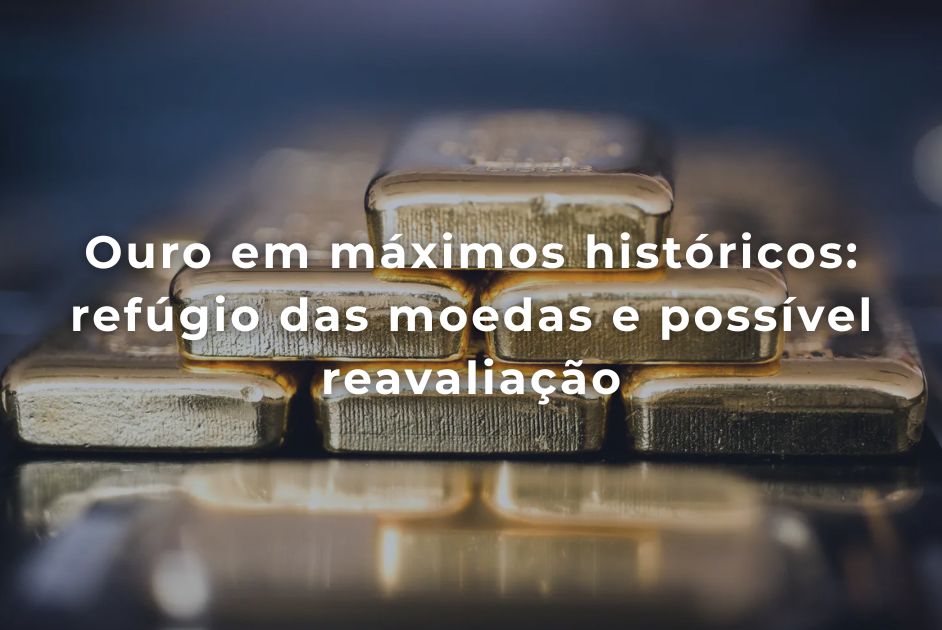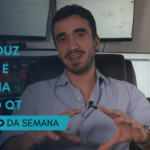Ouro em máximos históricos: refúgio das moedas e possível reavaliação
Por Bruno Janeiro e Bernardo Barcelos
Durante grande parte do século XX, o ouro foi a pedra angular do sistema financeiro internacional. Com os Acordos de Bretton Woods, assinados em 1944, o dólar norte-americano ficou ligado ao ouro a uma taxa fixa de 35 dólares por onça, enquanto todas as outras moedas se ancoravam ao dólar. Na prática, o ouro funcionava como colateral do sistema monetário global, conferindo estabilidade e confiança aos fluxos internacionais de capitais e comércio.
Esse modelo começou a colapsar nos anos 60, à medida que os défices orçamentais e os custos da guerra do Vietname colocavam pressão sobre as reservas de ouro dos EUA. Quando países como a França começaram a exigir a conversão dos seus dólares em ouro físico, ficou evidente que o sistema era insustentável. Em 1971, o Presidente Richard Nixon pôs fim unilateralmente à conversibilidade do dólar em ouro, encerrando o sistema de Bretton Woods e abrindo caminho a um regime de moedas fiduciárias flutuantes. Desde então, o valor do ouro passou a ser determinado pelos mercados — mas a sua função como reserva de valor nunca desapareceu.
Avançando até 2025, o ouro voltou às manchetes dos mercados por se encontrar em máximos históricos, ultrapassando pela primeira vez os 4.000 dólares por onça. Este movimento não reflete apenas a procura tradicional de segurança, mas sobretudo a desvalorização das moedas fiduciárias. O metal precioso já não serve apenas de refúgio face à instabilidade nos mercados acionistas; tornou-se um ativo essencial para preservar valor num mundo em que a expansão monetária parece não ter fim.
A razão é clara. O crescimento explosivo da massa monetária (M2), o recurso contínuo a défices públicos e a dependência dos bancos centrais de programas de estímulo resultam numa erosão do poder de compra das moedas. Um dólar de hoje compra significativamente menos do que comprava há dez anos. Perante este contexto, investidores institucionais e particulares têm aumentado a exposição ao ouro, conscientes de que se trata de um ativo que não pode ser “impresso” à vontade.
Um dado simbólico ilustra esta tendência: a valorização do ouro levou a que a reserva detida pelo Tesouro dos EUA ultrapassasse, pela primeira vez, 1 bilião de dólares em valor de mercado. Este marco reacendeu o debate sobre uma possível reavaliação contabilística do ouro, ou seja, uma atualização oficial do seu valor nos balanços públicos. A medida, se adotada, permitiria libertar liquidez sem a necessidade de novos programas de compra de ativos — funcionando como um verdadeiro “QE sem QE”.
Embora o Secretário do Tesouro norte-americano tenha inicialmente afastado essa possibilidade, países como a Alemanha, a Itália ou a África do Sul já revalorizaram as suas reservas de ouro no passado. Se os EUA seguissem o mesmo caminho, o impacto poderia ser comparável a uma expansão monetária disfarçada, com riscos inflacionistas associados. Só a antecipação de tal medida tem sido suficiente para impulsionar ainda mais o preço do ouro nos mercados.
Esta discussão reforça o ponto central: o ouro já não é visto como um refúgio circunstancial contra crises acionistas, mas como uma âncora de confiança num sistema monetário em permanente expansão. Tal como se pode ver no gráfico abaixo, a relação do ouro com a evolução da massa monetária M2 mostra uma correlação estrutural: à medida que a oferta de moeda aumenta, o ouro tende a valorizar-se, mantendo o seu estatuto como ativo de longo prazo. Não gera juros nem dividendos — mas oferece algo cada vez mais raro no atual sistema financeiro: confiança
Paralelamente, o papel do ouro no comércio internacional está a ser reforçado. Os países do grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) estão a desenvolver uma rede de cofres multilaterais que permitirão utilizar o ouro como colateral em transações comerciais, substituindo gradualmente os títulos do Tesouro norte-americano como principal ativo de confiança. Neste novo modelo, o yuan assume o papel de moeda de liquidação, enquanto o ouro dá garantias de credibilidade.
Esta arquitetura, liderada pela China através da Shanghai Gold Exchange International, representa um “Bretton Woods do século XXI”, mas com uma importante diferença: não há obrigatoriedade de conversibilidade. Os bancos centrais participantes podem, mas não são obrigados, a converter yuan em ouro — o que confere flexibilidade e credibilidade adicionais ao sistema.
Outro elemento diferenciador é o modelo de confiança mútua. Em vez de centralizar as reservas num único local, os BRICS estão a construir cofres distribuídos entre a Ásia, o Médio Oriente e África. Este modelo em que parte do ouro de cada país é guardada nos cofres dos outros, limita abusos e fortalece a cooperação.
A digitalização também entra nesta equação. Através da tecnologia blockchain e da plataforma mBridge, os BRICS estão a criar um sistema que permite a liquidação de transações internacionais com ouro como colateral, mas sem movimentar fisicamente o metal. Isto torna possível acelerar a velocidade das transações mantendo a segurança e a rastreabilidade — algo que, até aqui, limitava a integração do ouro nos sistemas de pagamentos globais.
Tudo isto contribui para uma maior “remonetização” do ouro — não apenas como bem de reserva, mas também como componente ativa num novo sistema financeiro multipolar.
Para os investidores particulares, esta realidade deve ser tida em conta. O ouro não é o ativo que mais valoriza em fases de expansão de liquidez (como os mercados acionistas ou os ativos imobiliários), mas oferece estabilidade e resiliência. Ao longo das últimas décadas, demonstrou ser um elemento crucial em carteiras orientadas para o longo prazo, especialmente em contextos de incerteza monetária.
Num mundo em que as moedas perdem poder de compra, os bancos centrais acumulam ouro e a geopolítica desafia o modelo tradicional de confiança, o ouro reaparece como o que sempre foi: um ativo real, tangível e resistente à manipulação. É por isso que continua — e continuará — a ter lugar nas carteiras de quem procura preservar valor.